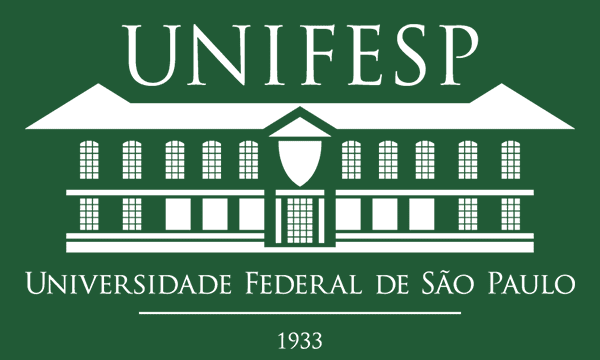Por José Alexandre Altahyde Hage *
Publicamos recentemente um artigo no qual utilizamos recurso metafórico, chamado Guerra nas Estrelas, para compreendermos um fenômeno encontrado no conflito atual entre Rússia e Ucrânia. Por Guerra nas Estrelas queremos nos referir à geopolítica dos anos 1980 quando os Estados Unidos intensificavam altos gastos em seu orçamento militar para forçar a União Soviética a fazer a mesma coisa. O problema é que Moscou tinha recursos financeiros bem inferiores em comparação aos despendidos pela Casa Branca naquele momento. Esta metáfora continua nos sendo útil para compreendermos o desgaste que as potências ocidentais jogam sobre a economia russa, ainda bem modesta, para continuar uma guerra, já bastante custosa, e que poderia levar o governo de Vladmir Putin à crise de legitimidade e, posteriormente, ser derrubado em favor do Ocidente.
Caso este recurso simbólico seja conveniente podemos continuar a usá-lo para analisar algo relacionado também aos anos 1980, a certas personalidades que ganhavam vulto em virtude da oposição que faziam aos soviéticos no âmbito da Guerra Fria. O presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, a primeira-ministra Margaret Thatcher, do Reino Unido, e o papa João Paulo II, cada um ao seu modo, eram os mais expressivos do anticomunismo.
Vamos nos prender à pessoa de Thatcher. A ministra fizera dobradinha com Reagan para oferecer dificuldades geopolíticas e econômicas contra a União Soviética, até que o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbatchev, jogasse a toalha por falta de condições econômicas para manter o poder soviético e com força, como havia sido nos anos 1960 e 1970. Vale dizer, a “era de ouro” da União Soviética sob o comando de Leonid Brejnev.
Thatcher, dentro de determinado prisma, era mais impulsiva e voluntariosa contra o chamado império do mal (como denominava Reagan a Europa Oriental) do que o próprio mandatário norte-americano. A ministra britânica fazia questão de marcar posição e dianteira, pois considerava que tal ação seria necessária para engrandecer um importante país europeus, que não era mais considerado grande potência, de fato, e que fazia eco àquilo que os Estados Unidos projetavam para dobrar a vontade dos Estados socialistas em geral.
Por ser assim, a dama de ferro tomava iniciativa estratégica na escolha e manutenção de determinados armamentos e na escolha de itens econômicos que pudessem, ao mesmo tempo, levar vantagem para Londres e constranger Moscou. Amostra disso foi o boicote que Thatcher ordenou para que a União Soviética não tivesse acesso a material petrolífero, sensível, de fabricação britânica, que pudesse ajudar a indústria daquele país. Enquanto o Kremlin não baixasse a guarda na concorrência política internacional, Grã-Bretanha, Estados Unidos e o Vaticano não dariam trégua aos soviéticos.
Na busca de dar relevância à política britânica, Thatcher tencionou abrir caminho diferente nos meios (mas semelhante na “vontade nacional”), do mesmo modo que havia feito a Alemanha Federal, entre 1974 e 1976, com a iniciativa denominada ostpolitik. Tratava-se da atenção que o chanceler da época, Willy Brandt, direcionava aos vizinhos do leste europeu, sob controle da União Soviética, bem como a algumas partes do antigo Terceiro Mundo. De certa forma, a proposta de Brandt era abrir caminho entre as superpotências, Grã-Bretanha e França, para uma Alemanha grandiosa economicamente, mas diminuída sob o aspecto estratégico por conta do seu passado belicista e dos duros engessamentos da Guerra Fria.
Não havia dúvida de que o chanceler tentava fazer daquela Alemanha ponto para apoio econômico e material, com jointventures, para também intensificar relações proveitosas com a vizinha-irmã Alemanha Oriental e demais países do leste, inclusive a União Soviética. Ao ser mais dura no trato, Thatcher procurou fazer a mesma coisa, mas com os pesados instrumentos da política do poder para dar prestígio a um Reino Unido fatigado por guerras.
O arrazoado acima, com Thatcher, é para poder observar as intenções, realizáveis ou não, do atual primeiro-ministro britânico, sua visão sobre a guerra na Europa, e suas possíveis consequências. Boris Johnson foi prefeito de Londres e chegou ao 10 Downing Street por esgotamento de quadros, uma vez que o Partido Conservador havia entrado em desgaste, entre outras coisas, por conta do blefe que o Gabinete anterior dera a favor da retirada britânica da economia europeia, o Brexit de 2017, mas sem acreditar que ele seria aprovado por escolha popular. A maioria da sociedade britânica deu o Sim ao Brexit e Cameron deixou o poder.
Se a saída da Grã-Bretanha da economia europeia serviu para dar expectativa ao nacionalismo econômico do país, já que havia queixas sobre a morosidade da burocracia geral de Bruxelas, passa a ser crível dizer que a intenção de Johnson é reposicionar o poder britânico no âmbito da segurança coletiva continental, da OTAN, sob o poder norte-americano — mas sem querer abrir, obrigatoriamente, linha de competição com os Estados Unidos.
Johnson acredita que o atual argumento estratégico europeu não se completa porque Alemanha e França são vacilantes e não apresentam vigor contra aqueles que são os reais perturbadores do Ocidente: Rússia e China. O premiê crê, no fundo, que Paris e Berlim estão mais sensíveis com a causa eurasiana do que com os valores da Europa e dos Estados Unidos. Isto pode ser em função da hipótese que, no final das contas, o centro dinâmico do capitalismo vai de vento em popa para a Bacia do Pacífico, para a máquina industrial da Ásia. E nisso, Alemanha e França podem preferir privilegiar o pragmatismo econômico para sobressaírem em meio a um Ocidente que se esgota por excesso do emprego militar.
Será que o Reino Unido ajudaria a destroçar a OTAN para que tivesse dianteira na política internacional? Pode ser que Johnson faça mesmo isso, considerando um item importante: o país ainda resguarda um bom quantum de poder político, com armas nucleares e tecnologia militar, e valoriza sua posição como Estado fundador da Aliança Atlântica, sem ter duvidado de sua missão. Do ponto de vista econômico, o mandato de Thatcher ajudou a restabelecer um traço histórico da política britânica: o retorno de Londres (a antiga City) na condição de relevante praça financeira internacional, com influência global. De certo modo, a capital inglesa voltaria a dividir com Nova York a preeminência de cidade global.
Mas no atacado, teria o Reino Unido gordura bastante para bancar sua intenção de grande potência com poder de decisão? No quesito militar, o país parece oferecer algo, sobretudo com sua marinha de guerra. No produto interno bruto, o Reino Unido não teria larga vantagem para tanto, visto que sua economia seria análoga à francesa e à italiana, mas abaixo da alemã.
Se, efetivamente, tais peculiaridades são suficientes para a elevação do poder britânico é algo que está aberto e no campo da hipótese. Porém, os sinais deixados por Johnson nos permitem pensar que isso seja seu objetivo sobre a Europa continental. É claro que a Grã-Bretanha sozinha não consegue angariar posição na qual pensa ter direito; ela necessitaria da cooperação ou anuência dos Estados Unidos para isso. Mas independente dessas questões, Londres acredita que o acúmulo de poder histórico que possui, credenciaria o país para liderar a transformação na qual colocaria em segundo plano, ainda mais, França e Alemanha.
Uma das queixas de Boris Johnson é a de que França e Alemanha tem menos empenho e compromisso que a Polônia contra a Rússia. Paris e Berlim se limitariam a enviar material bélico, mas nada de se comprometerem estrategicamente para resolver o conflito que pode jogar por terra o espírito moderno do que vem a ser ocidental. Será que o premiê britânico pensa no arranjo continental, na visão de cada Estado-membro, nas decisões?
Sobre isso, é curioso que Johnson queira impulsionar a armada britânica para tomar responsabilidade no acompanhamento de navios graneleiros no Mar Negro. Embarcações que carregariam a safra agrícola ucraniana, de trigo e milho, por exemplo, para o mercado internacional, tido por carente desses insumos. O problema é saber se essa operação teria a anuência da OTAN ou se foi dela que partiu essa ideia, uma vez que os russos podem estranhar.
Johnson apresenta algo semelhante, guardadas as devidas proporções, com o governo de George W. Bush, no momento em que se constituía bloco de apoio para adentrar militarmente ao Iraque e Afeganistão devido aos ataques terroristas do 11 de Setembro de 2001. Naquele ano, a Casa Branca demonstrava descontentamento com França e Alemanha porque não se sentiam à vontade de se filiarem a favor dos Estados Unidos naquela aventura.
Bush, de imediato, emendou que havia a velha Europa, França e Alemanha, reticente e vacilante; e havia a nova Europa, com Polônia e Espanha, que não titubearia em acompanhar os Estados Unidos na luta pela democracia, justiça e liberdade. Parece que há em Johnson o mesmo raciocínio para buscar apoio no qual a preeminência caberia ao Reino Unido. A questão é esperar o amadurecimento que o tempo pede para ver se isso tudo é congruente.
*José Alexandre Altahyde Hage é professor do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
Fonte: Unifesp